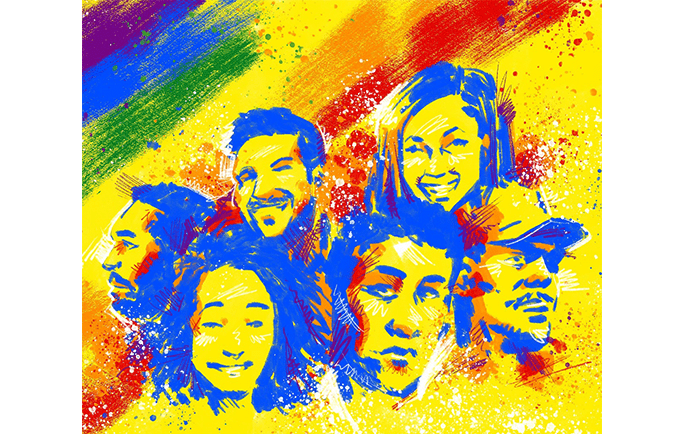O 29 de janeiro, Dia Nacional da Visibilidade Trans, tem como objetivo dar visibilidade à população trans, que inclui travestis, mulheres transexuais e homens trans. Essa visibilidade se faz necessária principalmente porque o Brasil é um dos países que mais agridem pessoas LGBTI, sobretudo travestis e transexuais. Nesse contexto, um desafio se levanta: como garantir a sobrevivência dessa população? Como tornar a sociedade mais inclusiva e plural, garantindo o cumprimento de direitos e adotando políticas que reconheçam o outro em sua cidadania, especialmente em relação ao atendimento na rede de saúde pública?
Segundo os dados do Grupo Gay da Bahia, em 2018 houve 520 crimes contra pessoas LGBTI – números, supõe-se, abaixo da realidade, por se tratar de crimes com grande índice de subnotificação, tratados como delitos comuns pela polícia, e não como crimes de ódio. De acordo com relatório de 2018 da Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA), que mapeia os assassinatos e a violência especifica desta população, no ano passado foram identificados 163 homicídios de pessoas Trans, sendo 158 Travestis e Mulheres Transexuais, 4 Homens Trans e 1 pessoa Não-Binária.
Para Jacqueline Rocha Côrtes, reconhecida ativista no trabalho por políticas públicas para a população LGBTI, e membro do Conselho Consultivo do Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) no Brasil, as reivindicações da população trans passam por algumas questões fundamentais, a começar pela segurança. “Eu diria que a primeira pauta de todas é a violência, é poder existir sem que a sua existência seja uma ameaça ao mundo e, consequentemente, seja alvo de ódio e de crimes, de assassinatos. A segunda pauta mais urgente é trabalho. Em seguida, educação. Isso tudo com saúde”, enumera.
Para a ativista, falar em visibilidade trans, hoje, é tratar de saúde – sexual, reprodutiva, psicológica. “A saúde sexual inclui o bem-estar psicológico, para que não haja mutilação, suicídio e desconhecimento de seu próprio corpo. Por exemplo, a maioria da população trans quer fazer uma transição, quer mudar o seu corpo, e pra isso tem que fazer hormonioterapia. No papel, a gente tem um monte de coisa linda sobre saúde sexual e reprodutiva no Brasil, mas na realidade, nós temos o que?”, questiona.
Jacqueline enfatiza a necessidade das políticas públicas para garantir que a população trans tenha o atendimento de acordo com as especificidades de suas necessidades. “Saúde deve ser universal e equânime. Equidade é tratar de forma diferenciada aquele que se encontra em situação diferente. Então, não é um privilégio você precisar de um serviço especializado para pessoas trans. No caso das pessoas trans, elas nascem em corpos biológicos que, às vezes, querem modificar. O SUS tem que se adequar a essas especificidades que estão surgindo no mundo”, explica.
A partir dessa constatação, a ativista afirma que é preciso rever não apenas a conduta profissional, mas o próprio conceito de saúde empregado nos serviços públicos, bem como o tratamento oferecido à população. “Há uma diversidade que tem acontecido e ninguém pode frear. Então, dialogar com as pessoas trans é fundamental. Porque não adianta ter uma clínica toda aparelhada, com uma equipe extremamente profissional, mas onde chega uma travesti e a pessoa é chamada de ‘Senhor João’. Ela não volta mais naquele lugar, porque não é ‘Senhor João’, é ‘Senhora Maria’. A primeira coisa é inclusão, e a primeira coisa que se pensa em inclusão é o nome social. Mas o que isso tem a ver com saúde? Tudo. Tem a ver com saúde mental. Se a sua existência é negada e de imediato, que saúde que você vai ter?”, questiona.
Para Irina Bacci, analista para Assuntos Humanitários do UNFPA, é nesse cenário que se torna ainda mais urgente a aprovação de projetos de lei como o 5002/2013, conhecido como Lei João Nery, que tem como objetivo permitir a mudança de nome e gênero sem a necessidade de recorrer à Justiça, além de determinar que o SUS e os planos de saúde custeiem tratamentos hormonais a pessoas trans. Porém, para Irina, a expectativa de aprovação é quase nula.
“Desde a Constituição Federal de 1988, o país tem uma dívida grande com a população LGBTI. Havia uma emenda para incluir orientação sexual, que foi rejeitada pela maioria dos constituintes. Não temos até hoje aprovação de projetos de lei que deem direitos à população LGBTI ”, argumenta.
O quadro reforça a necessidade de mudanças práticas. Na visão de Jacqueline, a urgência de se adotar um atendimento diferenciado, que considere os múltiplos aspectos da saúde da pessoa trans, pode tornar o serviço de saúde de fato inclusivo – e promover mudanças mais amplas na sociedade. “Trabalhar a sexualidade humana dentro dos serviços de saúde sexual e reprodutiva é fundamental. Na mesma sala de espera você vai ter uma travesti sentada com uma mulher cis, uma criança, um idoso. Então, a convivência dentro do serviço de saúde começa a existir e a tendência é naturalizar”, diz.
De modo semelhante, Irina Bacci crê que o casamento entre pessoas do mesmo sexo pode contribuir para uma sociedade mais plural. “O casamento trouxe a configuração de novas famílias, de novas possibilidades de
união, propôs ao país um debate importante na mídia. Ao existir, essas pessoas passam a ser refletidas na história do país”, comenta. Uma das consequências disso, aponta ela, é uma maior convivência entre famílias homoafetivas e heteroafetivas nas escolas. Segunda ela, já se observa cada vez mais crianças que lidam com esse tema com menos dificuldade.
Uma mudança de cultura pode garantir que haja um país muito diverso daquele com números tão assombrosos. Citando o caso da Holanda, Suécia e Espanha, Irina Bacci argumenta que a diminuição no número de homicídios de LGBTIs nesses países está associada a uma mudança propositiva e a uma comoção da própria sociedade. “Isso se dá pela convivência. O Brasil ainda se nega a conviver com a população LGBTI. Mesmo com os avanços como o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, ainda há uma negação. Mas à medida que novas famílias vão se formando, que esses contextos acontecem dentro das escolas, na convivência dos filhos, a gente vai tendo gerações que vão crescendo e tendo novas posturas”, acredita.